O final de cada mostra internacional de cinema de São Paulo para mim é sempre uma sensação de exaustão misturada com a vontade de ter visto mais filmes. Quando termina essas duas semanas de maratona de filmes parece também o momento de parar e começar a assentar esses na cabeça, descobrir quais filmes não tratei direito, quais caíram com o passar dos dias e, principalmente, quais realmente ficam comigo. É sempre um exercício de equilibrar o fervor do momento com o pensamento distanciado. A ideia dessa edição da coluna é registrar os pensamentos que ficaram depois de algumas semanas.
Entre a maluquice de uma sessão e outra ao longo das duas semanas que duraram a mostra deste ano, duas músicas ficaram na minha cabeça, The Night dos The Four Seasons, protagonista da melhor cena de Mirrors No. 3 de Christian Petzold e a versão de Dusty Springfield de Spooky, usada em Pai Mãe Irmã Irmão, de Jim Jarmusch que ganhou o Leão de Ouro, prêmio máximo do Festival de Veneza. Para além dessas excelentes canções pop classudas da virada dos anos 60 para os 70, acredito que são filmes que se aproximam de muitas formas, no primeiro, Petzold conta sua já tradicional história de fantasma (mais parecido com sua obra prima Phoenix do que com seus – também grandes – filmes mais recentes como Afire ou Undine) agora com um foco nas cicatrizes de relações familiares – a história muito simples segue Laura (Paula Beer), que depois de um acidente de carro que mata seu namorado decide se recuperar na casa de beira de estrada ao lado do local do acidente com uma senhora que a acolhe. O filme funciona muito a partir do próprio mistério e tensões invisíveis daquela família e consegue nisso momentos muito fortes e um poder de síntese notável.
O Jarmusch, com todas as suas deliciosas esquisitices, monta três contos de relações de filhos com os pais no fim da vida com um rigor de narrativa e simetria notável, um tipo de filme que funciona melhor como conjunto que como episódios separados – o que é uma grande qualidade – por mais que haja alguns momentos individuais notáveis, como o personagem de Tom Waits no primeiro e a dinâmica entre Charlotte Rampling, Cate Blanchett e Vicky Krieps no segundo. Houve uma indignação geral no Lido quando foi anunciado como grande vencedor do festival, o que é reflexo de uma situação que se tornou rara no atual momento de um filme que não fica se auto afirmando como importante conquistar o consenso do júri, raridade que também explica o porquê do Petzold nunca ter ganhado o prêmio máximo de qualquer festival e esse novo filme ter sido jogado para a mostra paralela de Cannes, por mais que seja um dos grandes diretores em atividade.
O filme que foi unanimemente, e com razão, alçado como importante nessa temporada de festival é Foi Apenas Um Acidente, de Jafar Panahi, talvez a principal voz do cinema iraniano atual, foi preso e proibido de filmar em 2010 e fez uma série de filmes em modo de “guerrilha”, como “Isso não é um filme” em 2011 e “Taxi Teerã”, que ganhou o Urso de Ouro em 2015. Esse novo foi feito ainda ilegalmente, mas com seu banimento de viagens suspenso, o que o permitiu ir à Cannes, onde ganhou a Palma de Ouro e criou com sua presença após tantos anos o maior evento da edição, e à São Paulo para Mostra, onde também foi um acontecimento. Em todos esses anos de banimento é seu filme mais tradicional – tem uma história bem direta de ex-preso que acha que reconhece a voz de seu torturador e tenta confirmar a hipótese enquanto lida com o dilema moral que a situação impõe – o que não significa que é menos controlado ou pior encenado, ele lida com um equilíbrio muito complicado entre o drama ético e um certo humor mórbido que cria e consegue gerenciar de forma surpreendente até a incrível cena final.

Debate com Jafar Panahi depois da primeira sessão de Foi Apenas um Acidente
Vejo aqui como são sempre curiosas as reações pós sessão, se essa sequência final do Panahi faz todo mundo sair do filme com a cabeça mexida, o outro filme que consigo pensar que gerou algo parecido foi o Dracula do Radu Jude, mas de forma muito mais extrema. É bem difícil decolar em palavras o que é o cinema do romeno, principalmente nos últimos cinco anos tem feito uma obra irreverente, livre de qualquer amarras e por vezes prolixa e em Dracula talvez chega ao ápice de tudo isso com um longa que bate às 3 horas dentre histórias dispersas, imagens de inteligência artificial e piadas de muito baixo calão. Um filme, portanto, verdadeiramente provocador que para mim se alçou aos melhores desse ano, por mais que não tenha – e nem deveria – funcionado para todo mundo, mas a verdade é que ninguém saiu da sessão incólume.
Já conhecendo de antemão a maluquice de Radu Jude, tinha a impressão que seria a sessão com mais desistências ao longo da projeção esse ano, mas, pelo menos nas que fui, foi a de outro filme de 3 horas: Folha Seca do georgiano Alexandre Koberidze. Filmado inteiramente com um Sony Ericsson W595 e com toda a assustadora resolução que os celulares de 2008 tinham, acompanha um pai procurando a filha, jornalista esportiva que sumiu enquanto escrevia uma matéria sobre os pequenos campos de futebol do interior de Georgia. De um lado é entendível as saídas dos que entraram desavisados, é um filme que muita pouca coisa acontecer justamente por focar em encontrar as belezas nas estradas por onde passa e em tudo que as envolve, não à toa as muitas comparações com Kiarostami, e como toda boa grande viagem, é um filme que recompensa aqueles que o adentra.
Uma dupla inusitada de filmes que compartilham entre si foram os trabalhos de duas diretoras portuguesas, a veterana Rita Azevedo Gomes e a estreante solo Maureen Fazendeiro, que acham formas bem próprias de sobrepor os tempos dentro do mesmo espaço. O de Maureen, As Estações, filma a região de Alentejo em Portugal e busca todas as histórias dentro dela, desde suas cavernas pré históricas até as brincadeiras de suas crianças, passando pelas histórias de resistência à ditadura e lendas tradicionais. É filmado de forma bem rígida e dentro disso encontra momentos de verdade muito bonitos além de ajudar no registro da paisagem. O de Rita, Fuck the Polis, é uma viagem – ou melhor, várias viagens, físicas e intelectuais – da diretora à Grécia, sobreposto com poemas e textos de vários autores. É bem mais exigente do que o da estreante e mistura o estilo típico da diretora com uma faceta impressionista da imagens e as diferentes texturas dos suportes que utiliza, há na parte final uma participação da cantora Maria Farantouri, mesclando um show antigo com uma entrevista atual, que resume muito o projeto e cria um dos grandes momentos desse ano.
Outra grande surpresa foi Garça Azul, primeiro longa da cineasta Sophy Romvari, que começa com a premissa de acompanhar pela perspectiva da filha mais jovem de um momento complicado de uma família lidando com o filho problemático, mas na segunda metade se desdobra para outra análise. É uma estrutura surpreendente, que até vale a pena não entrar em maiores detalhes, mas que proporciona ao filme dar conta de uma grande complexidade de sentimentos e engrandece o filme
Não há como terminar esse panorama sem falar do que para mim foi o grande filme dessa mostra, Blue Moon, de Richard Linklater. Um dos mais criativos autores da geração do cinema independente americano dos anos 90, que foi bastante impulsionado e é até hoje celebrado pela trilogia before, volta aqui sua parceria com Ethan Hawke para um claro trabalho de paixão que reconta o final da ´parceria entre Richard Rodgers (Andrew Scott) e Lorenz Hart (Hawke), uma das mais importantes duplas da Broadway e da canção americana. Se passa no cenário único de um bar durante a noite de estreia de Oklahoma, a primeira parceria entre Rodgers e Hammerstein e é obviamente cercado pela melancolia da história contada pelo lado dos derrotados – Hart morreria poucos meses depois daquela noite e não estava feliz de seu parceiro conseguir o maior sucesso de sua carreira na primeira peça sem ele – mas não se limita a isso e mergulha na tristeza do protagonista ao ponto de servir como grande reflexão de seu fazer artístico e como as relações pessoais entram no meio disso. Todas as crises de sua carreira, vida e sexualidade funcionam maravilhosamente no limbo de um artista muito engraçado e extrovertido, mas que carrega uma enorme amargura. Belíssimo.
Entre outros destaques que vale ficar de olho, Erupcja, estreia de Charli XCX como atriz em longa, foi uma agradável surpresa e ela está ótima. O novo Eugene Green, A Árvore do Conhecimento, é um divertido comentário da massificação turística de Lisboa e uma bonita defesa da fantasia, me diverti também com Atropia, vencedor de Sundance, apesar de inconstante.
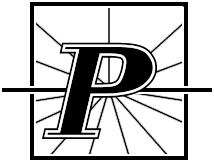

Deixe um comentário