Em algum ponto da longa estruturação dessa revista, decidiu-se por algumas colunas fixas e me propus a escrever uma que, a princípio, seria sobre lançamentos de música. A ideia surgiu da sensação coletiva de que toda a semana eu estou comentando sobre algum álbum diferente que ninguém ouviu. Durante o desenvolvimento do projeto a ideia da coluna se expandiu para um espaço para comentar sobre tudo o que gosto de falar, que será, espero, basicamente música e cinema. Quase como uma coluna de cultura, mas prefiro dar um tempo para ver em qual linguagem ela se desenvolve.
Precisei então de um nome, decidi homenagear (ou roubar que seja) meu álbum favorito do Pavement, Brighten the corners, dá conta da ideia de chamar a atenção para o que considero que merece mas também remete a tudo o que o Pavement representa: uma banda que sempre pareceu a beira de estourar comercialmente mas nunca o fez porque, em essência, não o quis, mas que de alguma forma cantavam sobre estourar comercialmente, então outras bandas copiaram, e essas sim estouraram. Havia um espírito de falar apenas sobre o que bem entender, de forma tão complicada quanto quiserem e essa talvez seja a maior qualidade que uma revista pode ter.
Para a primeira edição, um número 0, um primeiro teste de linguagem, peguei alguns dos álbuns que o primeiro semestre deixou vontade em mim de falar sobre. Queria falar de lançamentos mas me afastar de uma lista de melhores – por mais que goste de todos – e abrir esse espaço com músicas que fiquei com o sentimento que não foram discutidas como mereciam e que eu teria alguma palavra para escrever sobre, sem a exaustão de chegar atrasado para um trem que já passou que seria pegar os lançamentos com grande veiculação.
Acho que esse medo dessa edição parecer atrasada me impediu de falar sobre os lançamentos de cinema, por mais que o primeiro semestre tenha tido alguns que merecessem um destaque, especialmente os mais recentes de Alain Guiraudie e Kiyoshi Kurosawa, que por algum milagre chegaram ao circuito comercial brasileiro. Mas isso é pauta para outra hora, aos álbuns:

Angel Bat Dawid & Naima Nefertari – Journey to Nabta Playa
Gravado entre Chicago e a Suécia com um título que faz referências à ruínas de um observatório astrológico no deserto da Namíbia, essa parceria entre a já consagrada Angel Bat Dawid e a multi-artista Naima Nefertari parte de uma intensa pesquisa sonora que atravessa continentes para propor uma “jornada sônica pelo sagrado espaço tempo”, como indica o texto que acompanhou o lançamento.
A mistura de um spiritual jazz com o eletrônico que já tinha dada as caras no projeto de 2023 de Dawid “Requiem for Jazz” atinge aqui níveis muito mais radicais e acompanha a sonoridade de seu outro álbum desse ano, o solo “A Modern Cosmic Apocalyptic Sonic Discourse for the Book of Enoch”. Dentre as oito composições originais se misturam no álbum a faixa “Bishmillah”, do icônico jazzista Don Cherry, avô de Nefertari, e “Burial” de David Ornette Cherry, tio da artista e arranjada por Dawid. Além do privilégio para os ouvintes de ouvir essas raras composições, elas se misturam muito bem no conjunto e no raciocínio de ancestralidade que caminha até as estrelas da Namíbia.

Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso – Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso
Um cenário imponente: os três primeiros andares do prédio residencial do Conjunto Nacional, 10 metros de janelas, paredes e saídas de ar condicionado. Não apenas a primeira coisa que se viu no palco assinado por Daniela Thomas no espetáculo Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso no teatro do SESI-SP como também a capa do álbum de sua trilha. A mais recente empreitada do diretor Felipe Hirsch, a peça é um musical que, em um esquema quase anedótico, costura diversas histórias que passam pela Avenida título.
Para a missão o curitibano de nascença reuniu uma banda extraordinária: de veteranos como Arnaldo Antunes, Alzira E e Mauricio Pereira até o recentíssimo grupo de rap Maria Esmeralda, passando por nomes já consagrados como Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Negro Léo e DJ K, todos esses sob coordenação de Maria Beraldo e com músicas inéditas. O resultado é um álbum que não apenas fica como registro da peça mas que funciona por si só como uma reunião generosa da cena brasileira contemporânea e uma obra que se articula sob as maravilhas e contradições da maior metrópole do país.

Black Country, New Road – Forever Howlong
Impossível contextualizar esse sem repassar a jornada para a banda britânica chegar até ele: começaram com dois álbuns elogiados pela a crítica e que encontraram seu público, o primeiro de 2021 puxado para um pós punk a la The Fall e o segundo no ano seguinte mais indie rock com forte inspiração em Arcade Fire, sob o comando do inquieto e depressivo vocalista Isaac Wood, que colocava nas letras muito de sua própria vida. Na semana do lançamento do segundo álbum, Isaac escreve uma nota comentando sua dificuldade para incorporar essa música profundamente pessoal nos palcos e anunciado, em paz com os outros seis membros, seu desligamento da banda. Cancelaram então seus shows imediatos, marcando, em um movimento corajoso, um retorno aos palcos para dalí três meses, apresentando um repertório inédito que pouco menos de um ano depois foi gravado ao vivo em “Live at Bush Hall”.
A sonoridade era mais acústica e de certo afastou muito do público antigo, mas seguiram tocando, aprimorando esse novo som por dois anos até resultar em “Forever Howlong”, o terceiro álbum de estúdio e o primeiro a ter um ciclo de lançamento convencional. A decisão de colocar agora nos vocais as três mulheres da banda reflete uma nova etapa de afastamento da imagem de “música de machinho” que pejorativamente os primeiros álbuns receberam para um som mais solar com clara inspiração na americana Joanna Newsom. Há alguns momentos bem poderosos no colar de pérolas que formam com as novas histórias que contam a cada música, da singela Besties até o hipnotizante faroeste em Two Horses, os músicos britânicos claramente não perderam o fôlego

Erika de Casier – Lifetimes
Nós últimos tempos, a mídia física de música ganhou uma relação de colecionismo cada vez mais privada. Em uma época em que música virou uma commodity em streamings, ter um vinil, cd ou cassete de um álbum chega a ser uma forma de mostrar afeto pela a obra e expressar uma relação individual, todos podem ter acesso ao áudio pela internet, mas tê-lo na estante é um jeito de realmente ficar íntimo do material.
Talvez seja nesse sentido, então, que Erika de Casier tenha posto de surpresa seu novo álbum Lifetimes momentaneamente disponível apenas em fita cassete, para depois lançá-lo em streaming de forma independente. Como a capa já sugere, seu som parece levar o ouvinte para seu quarto em uma assimilação muito sofisticada do downtempo-triphop noventista, remetendo da Sade de Love Deluxe à Madonna de Bedtime Stories, sem perder o toque que consagrou a dinamarquesa nos últimos anos e se tornando talvez o ponto alto de sua jovem carreira.

Jane Remover – Revengeseekerz
É muito difícil escolher uma caixinha para encaixar o terceiro álbum de Jane Remover. Hip Hop industrial? EDM? O infame hyperpop? o assim chamado digicore? Mesmo caminhando por todos esses diferentes sons, é uma obra que atinge a proeza de se parecer como uma peça única. Uma explosão que captura o ouvinte e o agita por seus 50 minutos que nem parecem passar.
Claro que Jane já vinha trilhando uma carreira notável, seja com seu nome próprio, como Leroy ou como o recente projeto Venturing, conseguiu uma sólida base de fãs online por sua música esquisita e essencialmente digital, mas nada ainda com a radicalidade de Revengeseekerz. Daqueles raros exemplos de um álbum extremamente trabalhado que consegue soar estranhamente cru e verdadeiro aos ouvidos.

Los Thuthanaka – Los Thuthanaka
Tem sido um ano cheio para Chuquimamani-Condori, artista também conhecide como Elysia Crampton já foi anunciade como recipiente do Leão de Prata do festival de Veneza de música contemporânea por sua “contribuição inovadora para a música, prática artística multidisciplinar e participação em uma discussão cultural mais ampla, conectando temas de identidade e história”. Essa justificativa ajuda a entender o álbum lançado em conjunto com seu irmão Joshua Chuquimia Crampton, sob o nome de Los Thuthanaka.
De um som hipnotizante, o álbum é uma mistura quase indecifrável de eletrônica, colagem sonora e música tradicional andina. Um pequeno caos que ecoa desde os tambores que os artistas descendem até a mais avançada batida eletrônica espalhada por toda a América Latina. Os vocais, que consistem em pequenos samples de palavras e várias tags de djs, são usados apenas como mais um instrumento nessa explosão de 60 minutos que nunca perde seu ritmo.

Marie Davidson – City of Clowns
Terra devastada, quase nem dá para ver a pequena casa de pé, logo atrás da artista, em comparação com o grande prédio de vidro no fundo espelhando o céu nublado. Assim é a capa do álbum da canadense Marie Davidson, imagem opressora que se complementa às pesadas batidas de techno-pop que acompanham todo o álbum depois da primeira faixa Validation Weight, que parece uma iniciação de programa de computador.
“I want your data” repete ela na segunda faixa Demolition para já dar o tom do universo digital e pessimista que cria na obra e que reflete a internet atual e nossa relação com as big techs. Mas apesar do clima aparentemente pesado, sua sonoridade é absolutamente dançante e consegue por vezes, em um equilíbrio delicado, levar sua temática para lados sombriamente divertidos, como em Y.A.A.M e Push me Fuckhead.

Moor Mother & Sumac – The Film
A americana Camae Ayewa, que musicalmente atende pelo nome artístico de Moor Mother, é uma das artistas mais importantes e prolíficas da atualidade. Se aventurando principalmente pela poesia falada, hip hop industrial, noise, eletrônica e jazz, há uma potência em sua voz que parece sugar o ouvinte para sua palavra. Por mais que, então, possa ter sido uma surpresa a primeiro momento o anúncio da parceria com Sumac, uma banda de metal, o resultado é uma prova de sua versatilidade e uma vitrine dessa potência.
No meio das ensurdecedoras guitarras, sua voz ainda se sobressai e atraí no álbum que se anuncia desde o título como a trilha para um filme imaginário. Por mais que a suposta trama nunca fique exatamente clara, cada faixa cria uma atmosfera imagética que deixa à imaginação do ouvinte em ligá-las e sobrepor seus temas.Tive em junho o privilégio de presenciar o acontecimento que foi a primeira apresentação de Moor Mother no Brasil, abrindo para a gigante Kim Gordon no cine joia, onde, depois de um início excepcional com Juçara Marçal e Kiko Dinucci, performou sozinha no palco duas músicas de The Film, Scene 4 e a longa Scene 5: Breathing Fire. Mesmo sem nenhuma banda no palco foi uma apresentação de um peso avassalador, de um jeito que quando a atração principal da noite começou logo depois ainda estava desnorteado pela presença de Ayewa.

Squid – Cowards
A britânica Squid sempre foi um pouco difícil de descrever, a começar por sua configuração pouco tradicional de ter o baterista como principal vocalista e passando pela a vastidão de instrumentos que os cinco integrantes exploram, é aquele tipo de sonoridade que se prefere não pensar tanto sobre e apenas colocá-lo na grande caixa do post-punk que é mais fácil. Seus dois primeiros álbuns, Bright Green Field (2021) e O Monolith (2023) se usam dessa esquisitice para criar um universo muito próprio de histórias e obsessões.
Para o terceiro álbum, porém, foram talvez para o território mais estranho até agora: do outro lado do atlântico, os Estados Unidos. Olhando com um olhar estangeiro, fazem um retrato visceral do país que faz lembrar, tomada as devidas proporções, a excursão que diretores de cinema como Paul Verhoeven e David Cronenberg também tiveram por lá. Da história de canibalismo que a faixa de abertura dá como cartão de visitas até a descrição do sol sob as casas de drywall que parece que vão cair a qualquer momento em Blood on the Boulders é uma visão muito particular que apenas uma banda desse tipo poderia entregar.

Sparks – MAD!
Provavelmente as vozes mais resilientes da música pop atual, os Sparks, banda comandada pelos irmãos Mael, permanecem incansáveis desde 1971 e chegam com “MAD!” ao seu 26º álbum de estúdio provando que sempre haverá mais pérolas a se descobrir em seu vasto catálogo. Com uma sonoridade que lembra mais o minimalismo de Hippopotamus (2017) em relação aos dois últimos álbuns (2020 e 2023), eles já chegam com uma mensagem muito clara na primeira faixa “Do Things My Own Way”. Talvez um eco de “When Do I Get to Sing ‘My Way’”, música de 1994 que marcou o retorno da banda após um hiato imposto pela a gravadora de seis anos, mas que com certeza continua sendo a palavra de ordem para eles.
Ai que está, talvez, o grande trunfo dos irmão e um dos motivos deles me fascinarem tanto: eles nunca exatamente atingiram um nível gigante de fama e tiveram sim uma grande influência em outros artistas mas quando essa foi sentida já estavam buscando por outros sons, tudo isso porque, entrando na sexta década de atividade, continuam buscando apenas uma coisa: fazer a música que acreditam e muito poucos artistas conseguem isso nessa longevidade mantendo um nível tão alto.
Esta edição da coluna é dedicada a Hermeto Pascoal, um de meus heróis e falecido durante a finalização da edição. Foto minha de um show do Bruxo no Sesc Vila Mariana que aconteceu no dia de seu aniversário em 2024.

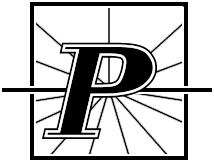

Deixe um comentário